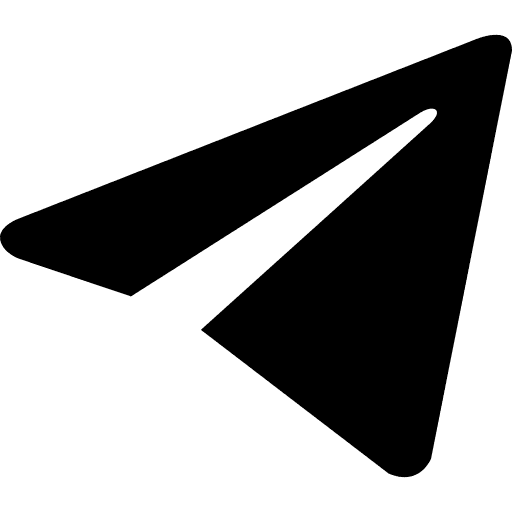O Brasil vive uma drenagem maciça de capital para o entretenimento de azar. Bilhões migram para plataformas que não deixam lastro, não produzem dados e não geram externalidades positivas. Ao mesmo tempo, o país convive com uma explosão de opiniões sem instrumentos eficientes para organizá-las. Vivemos em uma economia movida por expectativas, mas usamos ferramentas precárias para medi-las. O que falta não é opinião, mas infraestrutura para transformar expectativa em informação econômica.
É aqui que a confusão se instala. Mercados de previsão são tratados como versão sofisticada das bets. Essa leitura é tecnicamente equivocada. Estamos diante de algo diferente: uma nova classe de ativo, distinta de jogos de azar e de derivativos. Um ativo cujo objeto econômico é a informação.
A história dos mercados de previsão atravessa séculos. Em 1503, banqueiros romanos negociavam apostas sobre conclaves papais, não por entretenimento, mas para sintetizar informação política. Entre 1868 e 1940, Wall Street operou mercados eleitorais que superavam os gastos de campanha e antecipavam resultados melhor que pesquisas. Em 1988, os Iowa Electronic Markets validaram academicamente a hipótese. Empresas como HP, Google e Microsoft usaram mercados internos para prever riscos operacionais, superando sistematicamente gestores e modelos. Nas eleições americanas de 2024, a Polymarket movimentou bilhões e acertou o resultado com margem superior aos modelos tradicionais.
A teoria econômica sustenta o fenômeno. Galton demonstrou que grupos heterogêneos superam especialistas individuais. Hayek mostrou que preços são portadores de conhecimento disperso. Wolfers e Zitzewitz trataram preços de mercados de previsão como estimadores probabilísticos continuamente atualizados. O consenso na literatura não é mais se funcionam, mas como desenhá-los.
Apostas tradicionais operam sob lógica clara: a casa define odds, embute margem e atua como contraparte. O risco é criado para fins recreativos; a informação produzida é irrelevante. Mercados de previsão bem desenhados operam sob lógica oposta: estruturas peer-to-peer em que a plataforma não assume posição, não define preços e não lucra com o erro dos participantes. O preço emerge da alocação de capital e representa uma probabilidade implícita, o produto central do mercado.
O rótulo “derivativo” também é insuficiente. Derivativos clássicos derivam valor de ativos com trajetória contínua de preço e são precificáveis porque admitem arbitragem replicável. Contratos de eventos falham deliberadamente nesse teste: não existe carteira capaz de replicar o payoff de uma eleição ou de determinado nível de inflação. O preço não é imposto por replicação matemática, é descoberto pela agregação de crenças. O “subjacente” não é variável de mercado, é variável epistêmica: probabilidade coletiva sobre um estado do mundo.
Se não estamos falando de risco de preço, mas de risco de expectativa, estamos diante de uma categoria distinta. Ativos de informação não representam participação societária, não representam crédito e não derivam de ativo subjacente. Seu objeto é um estado verificável do mundo. O valor não está em fluxo de caixa, mas no sinal informacional produzido. O retorno remunera o acerto informacional. O ativo não carrega caixa. Carrega expectativa coletiva quantificada.
A escolha do modelo de precificação tem consequência jurídica direta. A Lei nº 14.790/2023 menciona “aposta de quota fixa”, modelo em que a casa define odds, assume posição e lucra com o erro do apostador. O modelo pari-mutuel opera sob lógica distinta: aportes reunidos em pool, redistribuídos entre vencedores, sem contraparte estrutural. O operador não precifica, não assume risco, não é player. É infraestrutura. O preço emerge diretamente da alocação coletiva de capital, fidelidade informacional, não liquidez artificial.
O encaixe jurídico brasileiro
O direito brasileiro não é hostil a essa inovação. A Resolução CVM 88 fornece arcabouço adequado: ofertas de contratos de investimento coletivo com transparência, limites, segregação patrimonial e dever de informação. Eventos verificáveis, com critérios objetivos de resolução, alinham-se ao espírito da norma. O princípio decisivo é a neutralidade estrutural: plataforma que não é contraparte, não define preço e não lucra com erro do investidor. O modelo pari-mutuel satisfaz naturalmente esse requisito.
O Brasil já precifica expectativas. A questão é onde. Hoje, a energia vai para produtos opacos e regressivos. Sem infraestrutura própria, repetiremos na economia da informação o padrão da economia física: exportar matéria-prima, importar produto acabado. Brasileiros já apostam em plataformas estrangeiras sobre eleições e inflação do próprio país. Exportam reais e dados brutos, suas crenças reveladas. Importam a probabilidade processada. A inteligência fica lá fora.
A pergunta não é se vamos regular expectativas. É se vamos produzir informação ou continuar exportando o insumo para que outros a refinem.
*Arthur Farache é CEO da Hurst Capital