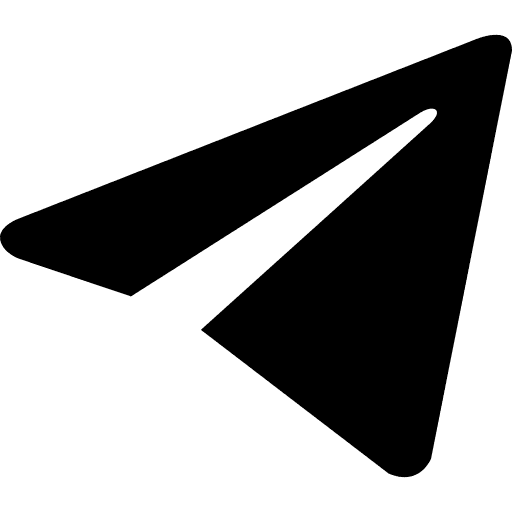Otaviano Canuto foi vice-presidente e diretor executivo do Banco Mundial, diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e secretário da Fazenda para Assuntos Internacionais no primeiro mandato do presidente Lula. Atuou como professor de Economia na USP e na Unicamp. Sergipano de nascimento, atualmente vive nos Estados Unidos, onde é membro sênior do Policy Center for the New South, da Brookings Institution, professor na Elliott School of International Affairs da George Washington University e professor afiliado da Universidade Mohammed VI Polytechnique. Em uma semana especialmente relevante para as relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos, Otaviano Canuto concedeu entrevista ao BRAZIL ECONOMY, na qual comentou, entre outros pontos, a surpreendente taxação de 50% sobre produtos brasileiros anunciada por Donald Trump, os desdobramentos do encontro do Brics e o momento atual da economia brasileira. Confira os principais trechos:
Como o senhor recebeu a notícia de que os produtos brasileiros receberão tarifas de 50% para entrar nos Estados Unidos a partir de 1º de agosto?
Trump já havia mencionado o Brasil durante a campanha eleitoral do ano passado, alegando que o País impõe tarifas muito altas, o que, em parte, é verdade. No entanto, o Brasil não é o único. A taxação de 50% visivelmente singulariza o País, uma vez que outras nações não enfrentam uma tarifa tão elevada. O conteúdo da carta evidencia a combinação entre a visão econômica protecionista de Trump e uma motivação política. Para ele, tarifas são armas. Ele as usou dessa forma. O problema é que os pontos mencionados na carta não podem ser objeto de negociação com o Brasil.
Qual o efeito de médio e longo prazo da política protecionista praticada por Donald Trump?
Internamente, não acredito que políticas protecionistas resolvam o déficit em conta corrente dos Estados Unidos. Além disso, a tentativa de Trump de reverter a desindustrialização por meio de barreiras tarifárias, enquanto o dólar está valorizado, não faz sentido. O ideal seria desvalorizar a moeda para estimular a indústria. Trump quer reindustrializar os Estados Unidos sem abrir mão do privilégio exorbitante do dólar. Ao final desse processo, é provável que as tarifas americanas fiquem mais altas, mesmo com negociações. Analistas estimam que, após todos os acordos, a média das tarifas dos EUA será 16,5% superior à registrada antes de Trump. Todos sabem que as reduções não serão expressivas, e os países negociam para proteger setores estratégicos.
Pode dar um exemplo?
Veja o caso da aviação comercial. Aqui nos Estados Unidos, muitos voos ao longo da costa leste são operados por aviões da Embraer. A empresa brasileira não apenas exporta aeronaves como também peças de reposição para o mercado americano. Como a Embraer não concorre diretamente com a Boeing, os EUA têm interesse em manter essa relação. O que pode acontecer é o governo Trump pressionar para que a Embraer produza dentro dos Estados Unidos, alinhando-se à agenda de reindustrialização.
O senhor acredita que o Federal Reserve deve reduzir a taxa de juros em breve?
As apostas indicam que a primeira redução ocorrerá em dezembro, embora alguns prevejam que será antes. Ainda é tudo especulativo. Para o Brasil, quanto antes, melhor. Juros altos nos Estados Unidos são prejudiciais à economia brasileira.
Como o senhor enxerga os resultados do encontro do Brics realizado este mês no Rio de Janeiro?
Foi uma tentativa de equilíbrio, mas é difícil. O Brics é um grupo heterogêneo, com interesses diversos. China e Irã desejavam uma postura mais dura contra os EUA, enquanto Brasil e África do Sul resistem à influência de potências como Rússia e China. Essa falta de consenso já vem de longe. Basta ver a dificuldade em apoiar uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, como deseja o Brasil, mas que enfrenta resistência de Rússia e China, que já são membros permanentes. Além disso, a ampliação do bloco gera novos desafios: Egito e Etiópia discutem o uso das águas do Nilo; Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes têm rivalidades no Oriente Médio. O sinal mais claro de que o bloco precisa amadurecer internamente é a ausência do presidente Xi Jinping, possivelmente devido ao destaque dado ao primeiro-ministro indiano.
O senhor atuou no Banco Mundial na época em que o Brics começou a ganhar força. Como avalia a evolução do bloco?
Em 2010, quando eu era vice-presidente do Banco Mundial, ainda havia um rescaldo da crise financeira global iniciada nos EUA e na Europa, que não afetou tanto os países do Brics. Em parte, porque já haviam enfrentado choques nos anos 1990. Isso fortaleceu a iniciativa. Depois, surgiram ações concretas, como a criação do banco do bloco. A primeira nota oficial foi tímida, sem grandes ambições. Hoje, o discurso é mais abrangente: defende o multilateralismo, promove finanças verdes e cobra dos países ricos o cumprimento das promessas feitas nas COPs.
Há uma preocupação global com o dólar como principal moeda de referência?
Na primeira metade do ano, o dólar perdeu cerca de 10% de seu valor global, influenciado por mudanças no fluxo de capital para os Estados Unidos e pela percepção de maior descontrole fiscal sob a gestão Trump. Muitos investidores recorreram ao hedge como proteção, o que afetou o dólar. Isso pode estar motivando bancos centrais a diversificar suas reservas, principalmente com ouro. China e Rússia vêm reduzindo o uso do dólar em seus ativos. Mas é improvável que o yuan substitua o dólar como principal referência global. Falta-lhe a segurança institucional da moeda americana.
Em 1971, o fim da conversibilidade do ouro em dólar marcou uma grande mudança no sistema financeiro global. Estamos diante de algo semelhante em 2025?
São contextos distintos. Hoje, o volume de transações privadas é muito maior, o que reduz a possibilidade de uma volatilidade como a de 1971, quando Nixon pôs fim à conversibilidade. Não vejo espaço para algo dessa magnitude no momento.
Como o senhor enxerga a atual situação econômica do Brasil?
Minha principal preocupação é com a trajetória fiscal. Mesmo que não seja explosiva, ela compromete a relação dívida/PIB, que vem se deteriorando. A tentativa de enfrentar o problema sem cortar gastos não tem funcionado. Até onde se pode elevar a carga tributária? Isso não resolve do ponto de vista da eficiência econômica. É contraditório: o Congresso rejeita o aumento do IOF, mas também não elimina as emendas parlamentares. O grande desafio é cortar despesas sem comprometer investimentos públicos e políticas sociais. Avançamos com a Reforma da Previdência, mas ainda é preciso revisar isenções ineficientes e aprovar uma boa Reforma Administrativa, que corte supersalários, por exemplo. Além disso, o Brasil precisa investir mais em agregação de valor à pauta exportadora. Hoje, isso aparece em poucos setores, como a exploração de petróleo em águas profundas, feita pela Petrobras com tecnologia avançada; nos motores da WEG; e nos aviões da Embraer.