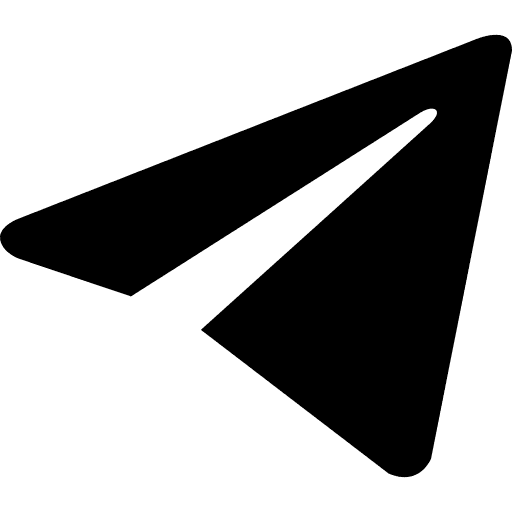A recente interpretação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o uso de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL na transação tributária reacendeu um debate considerado central para a política fiscal brasileira. Segundo especialistas, o entendimento adotado no processo 007.099/2024-0 cria insegurança jurídica e pode comprometer um modelo que, nos últimos anos, elevou a arrecadação, reduziu litígios e recuperou parte relevante da Dívida Ativa da União.
Dados oficiais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apontam que a recuperação de ativos inadimplentes atingiu R$ 61,3 bilhões em 2024, um avanço de 20% ante 2023. Desse total, R$ 34,1 bilhões vieram exclusivamente das transações tributárias. Desde a criação do instrumento, em 2019, foram firmados 3,2 milhões de acordos, resultando na regularização de R$ 777,1 bilhões.
Esses resultados consolidaram a percepção de que a política substituiu o modelo ineficiente de antigos parcelamentos e instituiu um mecanismo baseado em capacidade de pagamento, previsibilidade e viabilidade econômica. A avaliação, no entanto, entrou em xeque após manifestações do TCU que, segundo entidades do setor jurídico e empresarial, lançam dúvidas sobre aspectos estruturantes da legislação.
Entre os pontos de maior controvérsia está a natureza jurídica do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL. Classificados pela contabilidade brasileira como Ativo Fiscal Diferido, conforme o CPC 32, esses instrumentos são tratados pela legislação como formas de amortização aplicáveis somente após os descontos previstos nas Leis nº 13.988/2020 e nº 14.375/2022.
Para a advogada tributarista Mary Elbe Queiroz, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários (Cenapret), equiparar o uso desses ativos a um “desconto” distorce o objetivo da norma, que buscou permitir a extinção de débitos irrecuperáveis sem renúncia de receita. “O prejuízo fiscal não é benefício, é um direito patrimonial. Ele só pode ser usado depois dos descontos legais, exatamente como previsto pela lei. Restringir seu uso não aumenta arrecadação, apenas empurra o estoque de dívidas para o futuro”, afirmou.
O debate acontece no momento em que o próprio Estado reforça a importância da transação tributária como instrumento de arrecadação e racionalidade fiscal. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem defendido a autocomposição, enquanto o Congresso Nacional discute o PLP nº 124/2024, que propõe normas gerais para transações envolvendo União, estados e municípios, expandindo o modelo para todo o pacto federativo.
Segundo o Cenapret e outras entidades que representam juristas, acadêmicos, advogados e empresários, uma eventual restrição pode fragmentar um sistema que hoje opera com métricas claras de capacidade de pagamento e níveis de recuperabilidade dos créditos, além de garantir a manutenção das empresas ativas. O receio é de que o país volte a um cenário de execuções fiscais ineficientes, longas e com baixíssima taxa de retorno.
“O risco é desorganizar uma política pública que finalmente conseguiu conciliar arrecadação, segurança jurídica e continuidade das empresas. Criar barreiras fora da lei pode nos levar de volta ao cenário de execuções ineficientes”, disse Mary Elbe.
Além do impacto institucional, as entidades alertam para possíveis consequências fiscais e econômicas. Com dívidas tributárias que ultrapassam R$ 3 trilhões, a transação é vista como vantajosa para a União, ao evitar litígios prolongados e de baixa probabilidade de recuperação. Para as empresas, o mecanismo reduz incertezas, facilita o cumprimento das obrigações e melhora o ambiente de negócios, um fator especialmente relevante em um contexto de juros elevados e projeções de crescimento moderado.
O apelo das instituições é para que prevaleça a racionalidade jurídica e fiscal, preservando um instrumento que, segundo dados oficiais, aumentou o retorno ao erário e reduziu tensões históricas entre contribuintes e administração tributária.