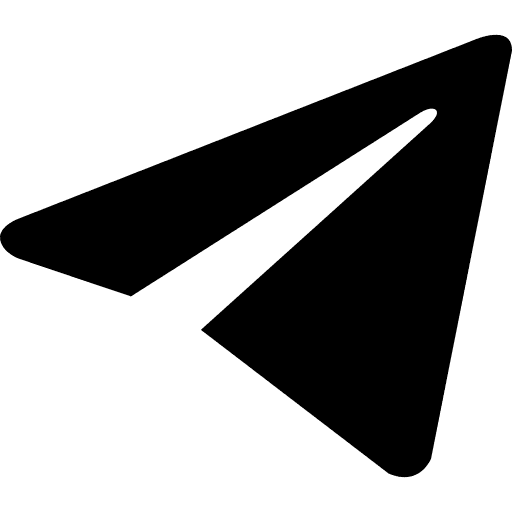Ler o jornal com o avô foi o primeiro passo de Felipe Salto rumo ao centro do debate econômico nacional. Nascido em São Paulo, mas criado em Laranjal Paulista, ele encontrou na política e na matemática uma combinação rara que o levou à Fundação Getulio Vargas (FGV) aos 18 anos e, mais tarde, ao cargo de diretor-executivo da então recém-criada Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal. Também atuou como secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, em 2022.
Atualmente, Salto é economista-chefe da Warren Investimentos, membro do Conselho Superior de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e do Conselho de Assessoramento Técnico da IFI. Ele tem três livros publicados sobre economia e contas públicas: Finanças públicas: da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade (Editora Record, 2016; Prêmio Jabuti, 2017), organizado em parceria com Mansueto Almeida; Contas públicas no Brasil (Saraiva, 2020), organizado com Josué Pellegrini; e Reconstrução: o Brasil nos anos 20 (Saraiva, 2022), com Laura Karpuska e João Villaverde.
Nesta entrevista exclusiva ao BRAZIL ECONOMY, Salto fala sobre suas motivações na juventude, os bastidores da IFI, a influência de nomes como Yoshiaki Nakano e Maílson da Nóbrega em sua formação e ainda analisa o cenário fiscal brasileiro, além dos impactos da política econômica de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, para países como o Brasil. Confira, a seguir…
BRAZIL ECONOMY – O seu avô teve uma grande influência na sua vida, inclusive em seu interesse em política. Poderia contar um pouco mais dessa história?
Felipe Salto – Meu avô era uma pessoa muito simples. Ele era pedreiro e, no fim da vida, ele virou empresário, na área também de construção. Na minha memória da infância, lembro dele lendo o jornal e isso que me chamava atenção. Eu comecei a ler o jornal por causa dele. Meu avô me mostrava o que era editorial, a opinião do jornal, os colunistas. Então, foi uma influência nesse sentido, de começar a olhar para o mundo. Minha mãe também sempre gostou de ler e acompanhar o noticiário. Eu sou do interior, eu nasci em São Paulo, capital, mas eu fui criado em Laranjal Paulista. Eu sempre gostei de matemática, mas eu comecei a me interessar por política no ensino médio. Acompanhava o noticiário local e cheguei a escrever para o jornal da cidade. Isto ampliou meu interesse para temas além daquele mundo mais micro que a gente tem na infância e na adolescência.
Com quantos anos você começou o curso de graduação em Economia na Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo?
Eu tinha 17 pra 18 anos.
Você já optou por uma carreira bem no início da vida adulta. O que você diria para aquele Felipe de 17 para 18 anos?
É muito curioso isso, porque quando eu comecei a fazer FGV, eu sempre tive na cabeça que precisava contribuir para a sociedade. Talvez não com essas palavras, mas de ter um papel para além dos objetivos pessoais. E eu me lembro que meus pais eram da Pastoral da Ação Social, lá em Laranjal Paulista. Eu ia com eles fazer visitas às famílias. Aquilo começou a me despertar para algo. As pessoas vivem de maneira diferente, têm necessidades e não têm o mínimo para sobrevivência. Não tem o que comer muitas vezes. Isto ficou muito na minha cabeça. Quando eu entrei pra FGV, eu conheci um professor, o Yoshiaki Nakano, que foi talvez a maior influência na minha vida até hoje, junto com o Maílson da Nóbrega, que depois eu conheci na Tendências. Com o Nakano, eu falava para ele do meu desejo de ir pra política e ele sempre me orientou a primeiro ir pro setor privado, aprender a ser economista. Eu falei que não queria ir para o mercado financeiro. E ele sugeriu ir para uma consultoria de macroeconomia, que estava bem em alta na época. E fui fazer estágio da Tendências Consultoria. Então o que eu diria para aquele Felipe que estava chegando em São Paulo que não sabia nem pegar o metrô direito ainda é “você vai ter sucesso na sua trajetória e faça tudo que você fez de novo que vai dar certo”.
Qual é a frase que você carrega até hoje entre suas principais influências?
Algo que o professor Nakano me disse que me marcou foi: ‘Felipe, o importante é saber onde você quer estar daqui a 30 anos e trazer isso para 20, 10 e para hoje’.
Agora, falando de seu período como o primeiro diretor-executivo da IFI do Senado Federal. O órgão não existia antes e você, junto a sua equipe, formaram praticamente do zero? Na época, os trabalhos da instituição sofreram diversas críticas por apontarem problemas sensíveis ao Executivo. Poderia comentar sobre os desafios neste cargo?
Sempre gostei de escrever e, desde cedo, percebi que análises econômicas sérias podiam ter impacto real. Fui indicado para a IFI pelo Renan Calheiros, após sugestão do José Serra, e aprovado em sabatina. Eu lembro que uma jornalista me perguntou se realmente a IFI seria independente, se criticaria o governo e isto ficou na minha cabeça. Eu tomei posse no dia 30 de novembro de 2016 e falei para equipe: “nós temos que mostrar resultados. O único poder que a IFI tem é publicar informação, é fazer análise”. Começamos do zero, literalmente, montamos equipe, infraestrutura e construímos credibilidade. Havia muita desconfiança sobre a independência da IFI, mas o papel da IFI é ser um cão de guarda das contas públicas, é produzir informações que coloquem o governo numa situação de ter que explicar os seus números, de justificar uma projeção otimista ou por que ele optou por tal caminho ou as consequências das decisões tomadas que têm efeito fiscal. Lançamos o primeiro Relatório de Acompanhamento Fiscal em fevereiro de 2017 e enfrentamos reações políticas fortes, inclusive de presidentes do Senado. Em um episódio, Eunício Oliveira (presidente do Senado entre 2017 e 2019) tentou barrar a IFI após publicarmos uma nota técnica sobre o teto de gastos, mas o prestígio público da instituição já era grande. O desafio foi institucionalizar uma voz técnica, independente e regular sobre as contas públicas e conseguimos.
Os relatórios apresentados pelo IFI sobre a Reforma da Previdência também foram um desafio para vocês?
Sim, foi um momento decisivo. Replicamos um modelo do IPEA e começamos a fazer projeções com nossos próprios parâmetros. Isso deu à IFI uma grande influência durante o debate da reforma. Houve tensão com o governo, especialmente com Rogério Marinho (então secretário especial de Previdência e Trabalho), que queria que atrasasse a divulgação dos dados. Mas explicamos que nossa missão era oferecer estimativas públicas e transparentes, e mantivemos o cronograma. O relatório saiu em março de 2019. O episódio reforçou a relevância da IFI como instituição autônoma.
Como você avalia o IFI atualmente?
Acredito que deixamos um legado sólido. A primeira equipe e os diretores iniciais consolidaram a missão da IFI de fiscalizar com independência o impacto fiscal das políticas públicas. Isso incomoda o Executivo e até o Legislativo às vezes, mas é parte do papel institucional. Hoje, sob liderança do Marcus Pestana, a IFI continua relevante e técnica. Eu acompanho de perto como conselheiro e posso dizer que a qualidade continua elevada, assim como a relevância da instituição.
Qual sua opinião sobre o desempenho do chamado novo arcabouço fiscal, o qual substitui o teto dos gastos?
O novo arcabouço fiscal trouxe regras razoáveis, com metas de resultado primário e limites para o crescimento das despesas. No entanto, essas regras não têm sido suficientes para estabilizar as contas públicas. Seguimos com um déficit elevado, de cerca de 8% do PIB quando se inclui a conta dos juros da dívida, e a dívida continua crescendo. O principal problema é a rigidez orçamentária. Hoje, cerca de 94% do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias, o que deixa um espaço muito limitado para gastos discricionários, como investimentos e custeio da máquina pública. Essa rigidez aumentou nos últimos anos, com a transformação de emendas parlamentares em despesas obrigatórias e a retomada de regras automáticas, como a correção real do salário mínimo. Medidas estruturais para conter o crescimento de gastos obrigatórios — como mudanças na previdência, no BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou em subsídios — não foram feitas. E a reversão disso exige liderança política, algo que hoje está faltando. Historicamente, grandes ajustes fiscais só ocorreram quando houve comprometimento direto do chefe do Executivo, como em 2000 com a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), ou em 2015, com a nomeação de Joaquim Levy. A própria proposta de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2026 já projeta que o espaço para gastos discricionários será negativo, o que mostra a gravidade da situação. Mais cedo ou mais tarde, será necessário um programa de ajuste fiscal de verdade, com revisão de despesas obrigatórias e benefícios tributários. Ainda que o governo tenha conseguido avanços importantes em 2023 e 2024 — como a nova lei do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), a tributação de offshores e fundos exclusivos — isso ainda é insuficiente diante da trajetória da dívida. Sem enfrentar os gastos obrigatórios, o arcabouço fiscal continuará sendo apenas o ‘arroz com feijão’, incapaz de mudar a trajetória da dívida pública.
Sobre o cenário internacional, como você avalia os impactos do governo de Donald Trump no Brasil?
Eu entendo que a intenção do Trump foi a de estabelecer uma política econômica de proteção à indústria nacional, que é uma coisa datada, sobretudo para os Estados Unidos. Os americanos têm uma vantagem que os outros países não têm. Eles detêm a moeda de reserva internacional. Portanto, podem ter um crescimento econômico baseado em poupança externa, como a gente fala em economia, que é a possibilidade de ter déficit em transações correntes, porque todo mundo quer financiar aquele país. Quando ele vem com essa proposta quase mercantilista, de colocar tarifas polpudas em cima daqueles países com os quais ele tem déficit, ele inverte essa lógica. Ele produz um movimento de placas tectônicas no mundo, que vai justamente na direção de promover reações que acabam prejudicando o crescimento daquele país, que é baseado, em parte, no consumo de importações, no consumo de componentes para a indústria e no consumo de bens finais, também de serviços.
Na sua opinião, o que vai acontecer?
Não acho que essa política vai se sustentar. O que eu tenho dito é que os países da periferia — onde o Brasil infelizmente ainda se enquadra — vão precisar atuar de uma maneira muito cirúrgica. Não dá para imaginar que Davi vai enfrentar Golias com a cara e com a coragem. Mas dá para imaginar, por exemplo, que em setores como o etanol e o açúcar, onde a gente tem vantagens comparativas, a gente possa sentar à mesa para negociar. Isso pode ser bom para nós. Outro fator que pode ser positivo é que fomos agraciados com tarifas menores em relação a concorrentes nossos. E uma terceira frente é a China: podemos ter um aumento da corrente de comércio com a China e nos beneficiar disso. E uma quarta questão é o Acordo Mercosul-União Europeia, que não desencanta já há muito tempo. Agora está numa etapa em que precisa haver a ratificação lá na União Europeia, e a França é o ponto nevrálgico dessa questão. Com esse contexto de maior fechamento e maiores restrições do comércio com os Estados Unidos, a gente pode ter alguma vantagem em termos desse acordo avançar, finalmente, ser aprovado e entrar em vigor.