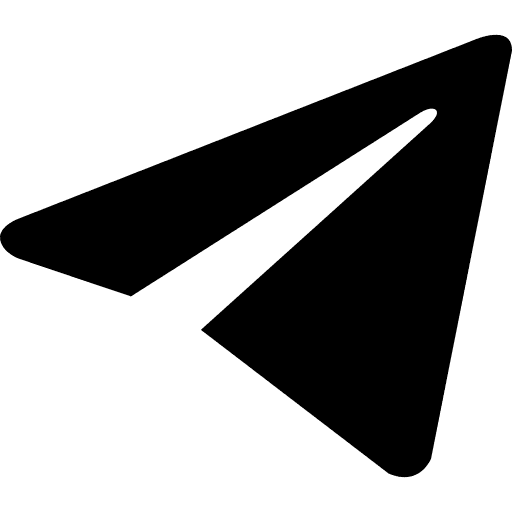Ao completar 100 dias de seu novo mandato na Casa Branca, Donald Trump registra uma das menores taxas de aprovação já vistas entre presidentes americanos. Isso chama a atenção e gera cliques, tanto entre os que aprovam suas políticas quanto entre seus “haters”. Mas, diante do volume massivo de notícias e análises que costumam acompanhar datas simbólicas como esta, surge o convite para refletirmos sobre as decisões tomadas até aqui e seus possíveis desdobramentos.
Antes, vale a pena entendermos por que esse marco dos 100 dias é tão relevante. Afinal, o que acontece em 100 dias no nosso cotidiano? Podemos compará-los a alguns ciclos de plantio na natureza — como os do milho e do feijão — ou ao desenvolvimento físico e motor de um bebê, que nesse período já começa a ter maior controle do corpo e a reagir de forma mais evidente a estímulos auditivos e visuais. Trata-se, portanto, de um tempo de transformação e de criação de bases para etapas futuras de desenvolvimento.
Por outro lado, sob a perspectiva de longo prazo — essencial para a realização de grandes projetos — 100 dias representam apenas uma fração de um mandato de quatro anos, ou seja, pouco mais de 1.400 dias. Por isso, é importante não supervalorizar esse marco.
Historicamente, a análise dos primeiros 100 dias ganhou notoriedade em 1933, quando o então presidente Franklin D. Roosevelt destacou, em um pronunciamento, o pacote de medidas emergenciais adotadas para conter os efeitos da Grande Depressão. Desde então, o marco passou a simbolizar uma fase de “lua de mel” dos novos governos, em que presidentes costumam aproveitar a popularidade pós-eleição para revisar políticas anteriores e adotar medidas executivas com menor dependência do Congresso.
Considerando o clima da campanha eleitoral no ano passado, já era de se esperar que o retorno de Trump à presidência seria agitado. Era razoável supor que ele colocaria em prática propostas que marcaram sua campanha, como políticas migratórias e tarifárias mais rígidas. Ainda assim, mesmo diante das incertezas, Wall Street demonstrava otimismo com a possibilidade de cortes de impostos, maior eficiência do Estado e redução de gastos públicos. Reflexo disso foi a continuidade do rali do S&P 500, que bateu recordes em 2024.
Logo no início de seu governo, uma sequência de eventos se desenrolou: uma enxurrada de ordens executivas, a criação do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), sob comando de Elon Musk, demissões em massa de servidores federais, maior exposição midiática nas ações de deportação e controle de fronteiras, a crise do DeepSeek, além de tensões geopolíticas envolvendo a Groenlândia, o Canadá, o Golfo do México (ou “Golfo da América”, como alguns passaram a chamar), a Ucrânia e a Faixa de Gaza — até culminar no Tarifaço e na guerra comercial com a China.
Não é necessário esmiuçar cada um desses episódios para entender os impactos provocados no mercado. O medo de uma “stagflation” — estagnação econômica combinada com alta inflação — e o receio de uma recessão americana com repercussão global passaram a ser precificados pelos investidores, que alternam momentos de aversão e apetite ao risco.
Apesar da alta superior a 20% do S&P 500 em 2024, a bolsa americana teve um dos piores inícios de ano da sua história. Em paralelo, o dólar registrou seu pior desempenho nos 100 primeiros dias de um presidente dos EUA desde 1973 — ano do “Choque de Nixon”, que marcou o fim do padrão-ouro. Mesmo assim, as Treasuries (títulos de dívida emitidos pelo Tesouro dos EUA) voltaram aos holofotes, sendo adquiridas em peso por investidores estrangeiros, como forma de proteção.
Diante desse cenário, muitas dúvidas voltaram a surgir sobre o papel dos EUA e do dólar no contexto global. Reapareceram velhos questionamentos: será que o dólar perderá seu status de moeda de reserva mundial? A imagem dos Estados Unidos estaria irremediavelmente comprometida?
Há quem trate esses 100 dias como definitivos, como se nada pudesse mudar daqui para a frente. Esse é um erro comum, como já vimos anteriormente no exagero contrário, quando se falava em “excepcionalismo americano” como algo incontestável.
Fica a lição: a virtude está no meio-termo
A verdade é que, mesmo em meio a turbulências, os EUA seguem sendo o principal protagonista da economia global. Apesar das críticas, nada menos que 88% das transações cambiais no mundo ainda são realizadas em dólares. E cerca de 59% das reservas internacionais também estão na moeda americana. Embora seja possível que outras moedas ganhem espaço, é preciso perguntar: qual é a probabilidade real de isso se materializar no curto ou médio prazo? Possibilidade e probabilidade não são a mesma coisa.
Além disso, o mercado de capitais dos EUA impressiona pelo tamanho e diversidade. O país representa 25% da economia mundial e abriga 70% do valor de mercado das 100 maiores empresas do planeta. Para se ter uma ideia, o PIB do estado americano mais pobre, o Mississippi, é maior do que o de cinco países do G7. E a Califórnia, sozinha, já ultrapassou o PIB do Japão — seria a quarta maior economia do mundo, caso fosse um país.
Em resumo: esta não é a primeira, nem será a última crise enfrentada pelos Estados Unidos. Presidentes vão e vêm, mas até aqui o dólar permaneceu. Cabe ao investidor reconhecer as oportunidades que a resiliência e a consistência — alinhadas a objetivos de longo prazo — podem trazer para sua carteira.
*William Castro Alves é estrategista-chefe da Avenue